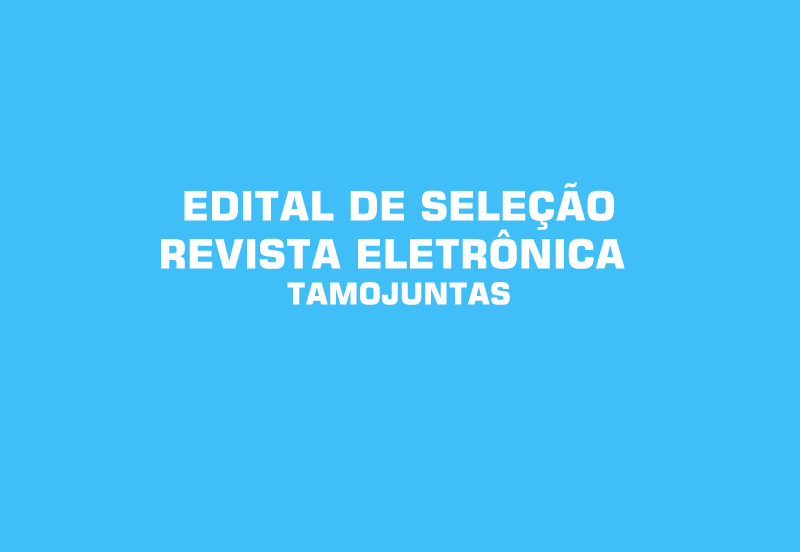O romance Middlemarch: um estudo da vida provinciana, lançado em 1874 pelo escritor George Eliot, é considerado hoje uma das melhores obras da literatura inglesa. A escritora Virginia Woolf chegou a chamá-lo de “um dos poucos livros ingleses feitos para gente grande”.
Na França, no mesmo século 19, George Sand também deixava sua marca na literatura. Ele foi descrito pelo autor russo Fiódor Dostoiévski como ocupante do “primeiro lugar nas fileiras dos escritores novos”. Recentemente, o governo francês debateu enterrar seus restos mortais no Pantheón, ao lado de nomes como Victor Hugo e Voltaire.
Curiosamente, ambos os Georges, o britânico e o francês, eram mulheres, que usaram pseudônimos masculinos para publicar.
George Eliot era Mary Ann Evans, que assinou artigos com seu próprio nome em um jornal. Ao se aventurar pelo mundo da ficção, no entanto, ela adotou a identidade masculina e chegou a escrever um ensaio chamado Silly Novels by Lady Novelists (Romances bobos de mulheres romancistas, em tradução livre), criticando os romances escritos por mulheres, para se distanciar de outras autoras de sua época e para que seu trabalho fosse levado a sério.
George Sand era a francesa Amantine Dupin, uma das autoras mais prolíficas de sua época. Ela escrevia contos de amor e de diferenças de classe, criticando as normas sociais. E também escreveu textos políticos e peças, que encenava em um teatro particular.
“Naquela época, uma mulher que tinha atividade intelectual estava cometendo uma transgressão enorme”, disse à BBC Brasil Sandra Vasconcelos, professora titular de Literatura Inglesa e Comparada da Universidade de São Paulo (USP).
“As que ousavam publicar usando seus próprios nomes recebiam muitas críticas, porque estavam extrapolando o papel designado para elas. A maioria acaba usando pseudônimo porque não quer se expor publicamente.”
Agora, um projeto brasileiro da empresa HP e e de uma agência de publicidade quer estimular a leitura dessas e de outras autoras com novas capas, que mostram seus nomes reais.
“Queríamos reimprimir a História, que, por diversos motivos, não trataram bem essas autoras”, disse à BBC Brasil Keka Morelle, a diretora de criação do projeto OriginalWriters (Escritoras originais, em tradução livre).
Os livros das autoras do século 19 e do início do século 20, principalmente europeias, já estavam disponíveis no site Gutenberg Project – um projeto que oferece, gratuitamente, mais de 50 mil obras de domínio público.
Mas a empresa decidiu fazer novas capas, que possibilitassem aos leitores conhecer a identidade real de suas autoras. Segundo Marcelo Rosa, produtor de conteúdo do projeto, o plano ainda inclui a tradução dessas obras para sua publicação em português – atualmente, elas estão em seus idiomas originais.
Há, ainda, a busca por brasileiras que tenham feito o mesmo e que possam ter seus livros disponibilizados gratuitamente.
‘Escrito por uma dama’
Durante os séculos 18 e 19, diz Vasconcelos, cristalizou-se o papel da mulher como primordialmente mãe e esposa dentro da família burguesa.
“A esposa era a responsável pelo mundo doméstico, da porta da casa para dentro. Muitas delas não tinham sequer acesso à educação formal. E toda mulher que tinha algum tipo de ambição para além disso era um ponto fora da curva.”
Mulheres que desejavam se tornar escritoras de romances publicavam com pseudônimos ou mesmo anonimamente, a partir do século 18. A mais famosa delas é a inglesa Jane Austen. A capa de seu primeiro romance, Orgulho e Preconceito, diz apenas: “Um romance. Em três partes. Escrito por uma dama.”
Austen, na verdade, não publicou nenhum romance assinado em vida. Os seus livros seguintes eram creditados à “mesma autora” dos anteriores.
Mas, no século 19, mesmo publicar anonimamente ficou menos comum.
“Escrever se tornou profissão e os romances se tornaram mais respeitados como gênero. A partir daí, ficou mais difícil para as mulheres terem autoridade cultural para assinar livros de ficção”, disse à BBC Brasil Sue Lanser, professora de Inglês, Literatura Comparada e Estudos sobre Mulheres, Gênero e Sexualidade da Universidade Brandeis, nos Estados Unidos.
“A história ocidental é principalmente de autoridade masculina. Por isso as mulheres começaram a usar nomes ambíguos ou diretamente masculinos. Elas estavam tentando se autorizar.”
Foi o que fizeram as irmãs britânicas Charlotte, Emily and Anne Brontë (Emily é autora de O Morro dos Ventos Uivantes e Charlotte, do romance Jane Eyre), que publicaram seus livros como Currer, Ellis e Acton Bell.
A prática continuou com força até o início do século 20 – mesmo quando as escritoras em questão eram mulheres intelectuais, de famílias da alta classe e bem conectadas, como a francesa Amantine Dupin.
Entre seus amigos famosos, estavam os escritores Gustave Flaubert (autor de Madame Bovary) e Honoré de Balzac (autor de A Comédia Humana), ambos seus admiradores e defensores. Mesmo assim, ela permaneceu como George Sand no mundo literário.
O escritor russo Ivan Turgenev chegou a dizer: “que homem corajoso ela foi, e que boa mulher”. Na vida social, Dupin causava polêmica em Paris por usar roupas masculinas, fumar em público e ter casos amorosos frequentes – coisas proibidas a uma mulher da época.
No Brasil, muitas escritoras também usaram o recurso do pseudônimo ou do livro anônimo pelos mesmos motivos, segundo a professora de literatura brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Constância Lima Duarte.
“Claro que o círculo mais próximo (da escritora) sabia do que se tratava. Mas elas faziam isso para se proteger da opinião pública. Os homens também chegaram a fazer isso, mas por motivos mais subjetivos”, disse à BBC Brasil.
A maioria destas escritoras, no entanto, apenas começa a ser descoberta, segundo Duarte. Uma delas é Maria Firmina dos Reis, autora do romance Úrsula (1859), considerado por alguns historiadores como o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira. Sua assinatura, no entanto, dizia apenas “uma maranhense”.
Em 1887, na Bahia, o livro As Mulheres: Um protesto por uma mãe denuncia o “diminuto mercado de trabalho que era reservado às mulheres, a absurda diferença salarial entre homens e mulheres e a valorização excessiva das funções reservadas aos homens”, explica a pesquisadora.
“É um livro importantíssimo, mas ela se escondeu tão bem que ninguém descobriu depois quem teria sido essa escritora.”
Libertação das restrições sociais
De acordo com Lanser, a “sensação de liberdade” também era um fator que levava escritoras a publicar com pseudônimos.
“Havia muitas restrições e expectativas sociais em relação às mulheres – sobre a maneira como elas deveriam escrever e os assuntos sobre os quais elas poderiam falar. E também era muito comum que críticos e leitores presumissem que seus livros eram sempre autobiográficos”, explica.
“Por isso, se houvesse qualquer elemento sexual questionável nos romances, ou considerado pouco apropriado para uma dama da sociedade, elas seriam julgadas. O pseudônimo era também uma maneira de proteger a vida pessoal.”
Mas segundo a pesquisadora, o fenômeno não desapareceu completamente. Já no início do século 20, a franco-britânica Violet Paget manteve seus escritos – que iam desde livros sobre viagem e música até contos sobrenaturais, críticas de arte, ensaios sobre liberalismo e romances – sob o pseudônimo de Vernon Lee, talvez também para evitar comentários sobre sua homossexualidade.
E nos anos 1990, a escritora britânica J.K. Rowling escondeu seu primeiro nome, Joanne, por sugestão da empresa que publicou sua obra. Em entrevistas concedidas depois do sucesso mundial de sua série de livros Harry Potter, ela disse ter ouvido de seu editor que o uso dos primeiros nomes abreviados, que deixavam a assinatura mais ambígua, facilitaria que os livros fossem lidos por meninos.
Para escapar das expectativas em torno de seu primeiro romance policial, Rowling também escolheu um pseudônimo masculino, Robert Galbraith. Não demorou muito, no entanto, para que ela fosse descoberta. O livro havia vendido pouco, mas recebeu críticas tão positivas que levantou suspeitas de que não fosse um romance de estreia de um novo autor.
Depois da revelação, uma primeira edição assinada da obra chegou a ser vendida por mais de R$ 13 mil.
Foi o contrário do que aconteceu George Eliot, ou Mary Ann Evans, nos anos 1860. A pesquisadora Sue Lanser conta que, quando sua identidade de mulher foi revelada, após a publicação de seu primeiro romance, um jornal de crítica literária revisou a crítica que havia feito do livro. A primeira era elogiosa. A segunda, bastante negativa.
“Isso ainda é comum no mundo acadêmico, nas ciências. Há um viés a favor da autoridade masculina no conhecimento. É um viés que às vezes é implícito, inconsciente. Achamos que isso mudou, mas, na verdade, não mudou tanto assim”, afirma Lanser.
Em 2015, a escritora americana Catherine Nichols fez a experiência de enviar um manuscrito seu para agentes literários sob um pseudônimo masculino e surpreendeu-se com o número de respostas que teve. Quando mandou o mesmo material usando seu nome, dias antes, teve duas respostas positivas em 50 tentativas. Com o nome masculino e o mesmo material, teve 17 de 50.
Levantamentos da organização americana VIDA – Women in Literary Arts mostram que livros escritos por mulheres ainda são menos revisados por críticos em revistas literárias do que os escritos por homens. E ensaios escritos por mulheres são menos publicados nestas revistas especializadas.
‘Literatura para homens’ x ‘Literatura para mulheres’
Além disso, o fenômeno da segmentação de mercado entre “literatura para mulheres” e “literatura para homens” também é algo recente e contribui para que escritoras que querem ultrapassar a expectativa de público para seus livros mudem seus nomes, como no caso de J.K. Rowling e Harry Potter.
“Quando o romance de ficção surge, os homens também liam. Tanto que grande parte dos comentários sobre os romances feitos nos jornais era feito por homens. E alguns dos maiores romances com protagonistas mulheres são de escritores homens. Não havia essa diferença, todos liam tudo”, relembra Sandra Vasconcelos.
“Hoje, os editores interferem bastante na vida dos livros e dos autores tomando decisões que têm essa suposta segmentação de mercado como justificativa.”
Lanser também concorda que o fenômeno é moderno. “Agora existe uma dicotomia maior em termos de gênero e práticas de leitura. Desde que Jane Austen, por exemplo, se tornou popular, só nos últimos 20 anos é que os homens pararam de lê-la e não querem mais ter aulas sobre ela”, afirma.
“Pesquisadores ainda leem, mas o estudante universitário médio não lê e diz que é ‘chick lit’ (literatura de mulherzinha, em tradução livre, uma gíria depreciativa). Muitos colegas meus têm a mesma experiência. Uma das maiores autoras da língua inglesa foi reduzida na mente das pessoas a uma ‘autora de romances’, mas ela está falando da sociedade, e escreve até mais sobre dinheiro do que sobre amor, se você olhar bem.”
Além disso, diz Lanser, é “absurdo” que se considere, no século 21, que histórias sobre mulheres, especialmente se têm algum tipo de história de amor no enredo, sejam automaticamente consideradas “literatura menor” e “só para mulheres”.
‘Não podemos mudar a história’
Mas se o projeto da HP diz ter a intenção de “reimprimir a História” dessas escritoras usando seus próprios nomes, a pesquisadora americana alerta que é preciso tomar cuidado com a ideia.
“Nem todas essas mulheres queriam apenas se proteger com o pseudônimo. Algumas estavam tentando habitar outras identidades. Talvez Mary Ann Evans ou Violet Paget se sentissem, de fato, George Eliot e Vernon Lee quando escreviam”, afirma.
Lanser diz que acha boa a ideia de tornar os livros e as identidades de suas autoras conhecidos a um público novo, mas que é importante manter os nomes com os quais elas publicaram suas obras originalmente.
“Mesmo que algumas delas tivessem tentando se esconder, precisamos também mostrar o nosso passado, não podemos mudá-lo. Não dá pra mudar a História e transformá-la em algo que gostaríamos que fosse.”
“Acho que mostrar os dois nomes é também uma forma de honrar a trajetória dessas mulheres.”
Originalmente publicado em www.bbc.com